Alex Hamburger
Entrevista a Bianca Tinoco, em 2 de março de 2009

Alex Hamburger, Música de Ação V. p.ARTE – Mostra de Performance Art, Bicicletaria Cultural, Curitiba, Brasil, 2013
BIANCA TINOCO: Como começou seu envolvimento com performance?
ALEX HAMBURGER: É uma história um pouco longa. Sempre me interessei, desde o início das minhas atividades artístico-culturais, por literatura. Minha família é de imigrantes: meus pais vieram para o Brasil quando eu tinha cinco anos. Vieram da atual Sérvia, ex-Iugoslávia, foram para Israel e resolveram vir para cá, porque a situação lá nunca esteve boa. Percebi que eu tinha certa facilidade para escrever, como consequência de leituras que eu praticava desde a adolescência, os clássicos. Jamais pensei que fosse enveredar pelo campo artístico. Explorei áreas mais técnicas como estudos básicos. Fiz Ciências Econômicas, justamente para poder vir para uma capital, porque comecei a ficar interessado na área cultural e percebi que havia muitos limites no interior, de toda ordem. Fiz esse curso em São José do Rio Preto, uma cidade relativamente grande no interior de São Paulo, e vim para o Rio de Janeiro, onde comecei a trabalhar como economista na Petrobras, e em várias empresas de consultoria. Por sorte minha, essa área de estudos me deu viabilidade e abertura para escrever e aprimorar minha inclinação pela palavra. Eu amava a palavra, mesmo a técnica. Nessa época, nem sonhava em escrever de forma criativa, inventiva.
Pude me assentar na cidade em um emprego nine-to-five, e à noite comecei a ter acesso a uma série de coisas, em 1974. No campo artístico, as coisas ainda estavam muito incipientes, mas havia algumas manifestações, no campo da música. Era a época da contracultura, e me interessei muito por esse tema, de uma forma mais sofisticada, não só voltada para a questão dos hippies e do rock’n’roll. Comecei a pesquisar psiquiatria, antipsiquiatria, filosofia, até estruturalismo. Comecei ali, efetivamente, a tomar contato com uma área que poderia me encaminhar para questões em um campo mais amplo da arte, como poesia, artes visuais. Mas eu não tinha percebido o alcance disso. Lia bastante, sempre de forma autodidata.
O Rio, como eu disse, estava muito limitado nessa época. Havia muito poucas manifestações nessa área, muito embrionárias. Em 1975, tive a oportunidade de ir para a Europa e, consequentemente, entrar em contato in loco com tudo o que eu havia pesquisado. Passei dois anos entre Paris e Londres, e foi lá que se deu esse contato mais aprofundado. Foi uma experiência fantástica; pude ver pela primeira vez a neovanguarda, os movimentos subsequentes à vanguarda clássica histórica. A neovanguarda se manifestou principalmente com movimentos da década de 1950, como o Fluxus, o grupo de Viena, o Black Mountain College, em torno de John Cage e Rauschenberg. Esses artistas todos eram muito pouco conhecidos no Brasil. Tínhamos um certo contato com os movimentos clássicos de vanguarda, como o dada, o surrealismo, o concretismo, por meio da mídia local. Mas as pessoas desconheciam totalmente o situacionismo, o grupo de Viena, uma série de experiências que aconteceram na década de 1950 na Europa, Japão e Estados Unidos. Então, em Londres, onde fiquei um ano e meio, comecei a comprar publicações, revistas e livros, que me puseram em contato com essas experiências das décadas de 1950 e de 1960, principalmente. Nunca tive contato direto com as experimentações que estavam acontecendo naquela época, pois, mesmo lá, elas eram restritas e limitadas a iniciados. Muita coisa ficou pelo caminho, porque, feliz ou infelizmente, aqui no Brasil somos um pouco periferia, embora tivéssemos tido a Semana de Arte Moderna e todos aqueles movimentos na sequência.
Em Londres, expandi meus conhecimentos no campo ampliado do cinema, no campo ampliado da fotografia e das artes plásticas. Quando cheguei ao Rio, em 1979, fiquei aqui pouco mais de um ano e logo fui para São Paulo, porque a Pauliceia tinha tradição cultural maior que a do Rio, e eu estava louco para colocar em prática coisas que iam ao encontro do que eu achava o que deveria ser arte. Sempre me interessei muito por essa coisa da antiarte, do mau gosto, do kitsch. Sempre achei que a arte deveria ser crítica em relação ao sistema como um todo, social, estético, cultural e antropológico. Em São Paulo, vi algumas coisas no campo da literatura, pequenos grupos ensaiando, recitais. Foi nessa época que comecei a escrever de modo mais consequente, poemas experimentais, mas ainda usando a palavra, sem perceber como poderia avançar. Fiz alguns poemas bastante questionadores do próprio verso, da metáfora e desses mecanismos que fazem com que um poema seja uma peça artística. Até porque, os poemas que tinham me influenciado, como os do surrealismo e do dadaísmo, haviam rompido com a estrutura metafórica e imagética do poema clássico tradicional, embora eu ache até hoje que um poema pode dar prazer, para o leitor e para mim, e que muitos grandes poetas conseguiram resultados maravilhosos escrevendo de maneira linear. Mas eu queria fazer com que novos significados fossem alcançados com essa prática. Comecei a escrever, recitar e participar de recitais no final de 1979 e início de 1980.
Fiquei um ano em São Paulo, mas não estava muito satisfeito e voltei para o Rio. Aqui, comecei a querer publicar esses poemas e fazer outras coisas. Eu já conhecia performances, após minha estada na Europa, e comecei a ter ideias nesse campo, mas era muito difícil, havia um deserto, uma aridez total. Olhava para todos os lados e não havia interlocutores para conversar, propor e realizar alguma coisa. Fiquei na minha, continuei escrevendo. Pensava: “Quem sabe acontece uma mágica, um milagre nessa área?”. Afinal de contas, o Brasil tem uma história por trás, inclusive nesse campo. Eu sabia que já havia acontecido coisas interessantes, embora o material de pesquisa fosse embrionário. Não havia computador como conhecemos hoje, e não havia como pesquisar, como dar sequência às buscas. Estávamos de mãos atadas. Era difícil conseguir até livros mais convencionais de poesia, mesmo de autores brasileiros, de um concretista por exemplo. Para achar a tradução de Mallarmé pelos irmãos Campos, foi uma dificuldade enorme. Para o que eu queria fazer, eu precisava de um embasamento. Não era um fazer por fazer que me interessava, somente por querer ser artista. Realmente ser artista é uma coisa tentadora, é uma maravilha, porque o ofício te dá algum poder nessa sociedade tão complicada para estabelecer relações. Comecei a buscar isso, e, de repente, algumas coisas começaram a acontecer na década de 1980.
BIANCA TINOCO: Que fatores te levaram a essa percepção?
ALEX HAMBURGER: Havia um grupo um pouco fechado, que era o do Chacal e de outros poetas, o Nuvem Cigana. Ele atuava desde a década de 1970 e estava no auge nessa época, 1980, 1981. Faziam uns recitais avançados, as artimanhas, em que ultrapassavam a esfera de simplesmente chegar e declamar poemas. Fui ver o grupo no Parque Lage em 1980, 1981, e gostei. Eles se utilizavam de vários elementos de cena, que colaboravam para criar um clima além da palavra, com irreverência, como uma forma embrionária da performance. Mas a palavra ainda era o elemento principal de seus eventos. Aquilo me deu um alento de que algo estava acontecendo. Aos pouquinhos, fui descobrindo poetas que estavam agitando, como Samaral, e tive um pouco de contato com os poetas do Poema Processo, um grupo experimental da década de 1970 que ainda estava em atividade. O Chacal não só recitava, estava aberto para atuações em lugares atípicos, como bares, inferninhos, pequenos centros culturais, bares que tinham um espaço interessante. Eu pensei “se eles fizeram isso, é porque há vida interessante na cidade”. Mas era muito pouco, o acesso era muito limitado.

Alex Hamburger e Márcia X., Fotossíntese, da Série de cartões-postais, 1987
BIANCA TINOCO: Como começou sua dupla com Márcia X.?
ALEX HAMBURGER: Eu a conheci quando li uma notícia no Jornal do Brasil sobre a performance Chuva de Dinheiro, que me deixou perplexo; achei uma coisa maravilhosa. Elas [Márcia X. e Ana Cavalcanti] pararam a avenida Rio Branco jogando aquelas notas gigantes; foi um acontecimento. Quando a conheci, ela era parceira de uma artista que hoje mora em Londres, Ana Cavalcanti. Por sorte, quatro ou cinco dias depois, numa festa, elas apareceram ainda sob os eflúvios da performance, vestidas com roupas lindas; com aquelas mesmas notas gigantes, fizeram uma bermuda e uma blusa. Esse encontro aconteceu em uma festa de um amigo em comum, o desenhista Rogerinho, em Santa Teresa. Falei para ela que tinha visto a performance: ela estava toda toda. Ela também estava ávida por interlocução, precisava de pessoas que pudessem oferecer informações. Por sorte, eu as tinha, por causa da minha estada na Europa. Eu estava com material bastante interessante para trocar, suficiente para dar andamento às pesquisas. Nosso encontro foi tão rico que nós dois formamos um casal, na vida real, e uma dupla de performáticos, porque a Ana se afastou devido a uma divergência. Márcia X. foi a performática que possibilitou finalmente que eu saísse da palavra e pudesse realizar ações corporais, interferências, apresentações em público, na rua, em pequenos bares, lugares não muito voltados para a arte.
Todos os autores nos interessavam de uma forma similar, como [James] Joyce, [Ezra] Pound, [o grupo] Fluxus. A Márcia era muito informada para a idade dela, um fenômeno. Ela tinha apenas 25 anos, e eu, 35. Ela se formou em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e era muito talentosa. E teve oportunidade, em idade tão tenra, de ver coisas importantes, embora pontuais, como a exposição Eat me, da Lygia Pape, e outra do Nam June Paik, ambas no Museu de Arte Moderna [MAM] do Rio de Janeiro. Cerca de noventa por cento dos eventos mais incisivos dessa época, mais experimentais, aconteciam no MAM.
Certa vez, falei para ela que estava escrevendo um livro, mas que não sabia como fazer a arte final, só tinha os poemas datilografados. Ela me disse “eu posso ajudar a fazer uma arte final, uma boneca, e depois a gente procura uma editora”. Foi a primeira colaboração nossa, o livro Kit Seleções. Ela fez a arte final, as ilustrações e a orelha. Consegui arrumar uma editora, do Paulo Coelho e da Cristina Oiticica, na época em que ele era completamente desconhecido. Fizemos o lançamento desse livro no Parque Lage e foi a nossa primeira performance. Os lançamentos eram sempre um pretexto para chamar o público alternativo e apresentar uma performance. Ela foi caracterizada com uma roupa engraçada e eu fiquei lendo uns poemas. Ela fez o convite e a decoração, com um pneu, no qual ela escreveu “Kit Seleções”. Eu inventava coisas que iam ao encontro do imaginário dela, e ela ao do meu. Ela fez um logotipo para meu livro, “a outra poesia”, com um diabinho folheando, e eu escrevia, “venha esmagar aviões velhos no valor de cinco milhões de dólares”. Começamos a ter uma resposta legal e demos sequência.
Lancei outros livros no Parque Lage, na década de 1980, todos diagramados pela Márcia, a arte-finalista da dupla. Um deles, 100/220 volts, lançamos no McDonalds, aproveitando meu sobrenome, Hamburger. Fazíamos teias referenciais muito sutis, pouca gente podia acompanhar. Às vezes, assumíamos um nome de grupo, Zicklus, para inserir aspectos poéticos experimentais às nossas atividades, como a videoperformance. Em outubro de 1985, fizemos um evento chamado Anthenas da Raça, nos apropriando de Ezra Pound, que dizia que os artistas eram as antenas da raça. Abrimos TVs, tiramos todo aquele equipamento de dentro. Os registros são poucos, na época não tínhamos nem uma câmera, depois adquirimos uma. A maioria deles não está comigo, pois nunca me importei muito com arquivos.
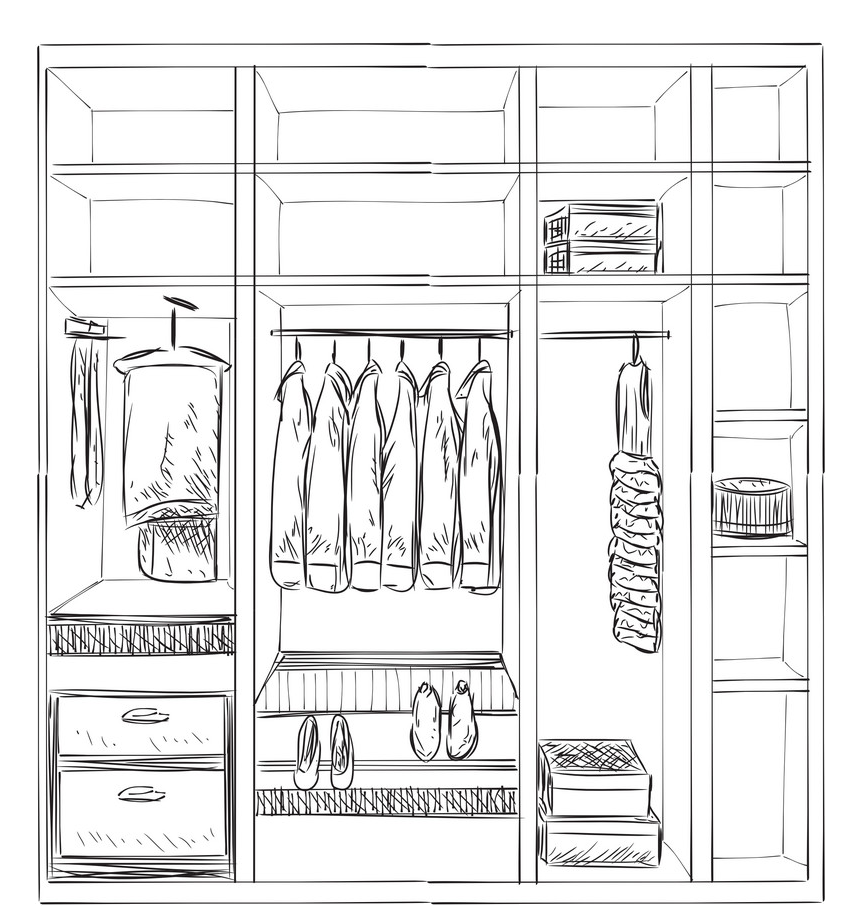
Alex Hamburger e Márcia X., Cellofane Motel Suíte, 1985-1986. Performance na II Feira Internacional do Livro, no Fashion Mall, Rio de Janeiro, Brasil. Alex Hamburger, vestido de “homem-sanduíche”, declamava poemas ao mesmo tempo em que ia cortando com uma tesoura as marcações em vermelho das vestes de Márcia. A artista realizou a ação com uma de suas não-roupas
Usamos de um expediente bastante interessante: o escândalo Dadá. Fomos convidados para a 2ª Feira do Livro, realizada no Fashion Mall em 1985, e trabalhamos um mês em cima dessa ação, Cellofane Motel Suíte. A Márcia se apresentou com não-roupas, que eram roupas de plástico que ela mesma fez, transparentes. No lugar das partes mais íntimas, ela pintou de vermelho. Não dava para ver, mas provocou escândalo. Os guardas começaram a se movimentar, havia seguranças. O público, em uma feira de livros, era de crianças, classe média. Tinha a nossa turma também, porque houve o lançamento do jornalzinho alternativo Alguma Poesia, que nos convidou para fazer a performance. Diz o seguinte, a matéria daquela época: “A única performance da feira não destinada a crianças foi organizada pelo pessoal do jornal Alguma Poesia, onde Márcia Pinheiro, de 26 anos, uma profissional da performance, criou um número com o poeta Alex Hamburger. Vestida com duas não-roupas, uma capa preta e uma capa transparente sem nada por baixo, Márcia foi se despindo dos excessos e pregando a plasticidade do corpo, enquanto Alex, paralelamente, ia lendo seus poemas. O ‘momento mágico’ de nudez durou exatamente meia hora. Alertado por pais de família, um segurança do shopping entrou em cena e, para obrigar Márcia a se vestir, apontou-lhe uma arma”. De verdade! Um revólver mesmo. Falou “ou você se veste, ou vai sair daqui!”. Foi um horror. Chegou nossa turma de poetas, artistas, e o público também ficou do nosso lado. [Hamburger continua lendo a reportagem, de 09 de setembro de 1985.] “As pessoas começaram a gritar ‘Acabou o tempo do Médici! Palhaço!’, gritavam alguns palhaços do grupo Ciranda de Livros, com as caras lambuzadas e dedos em riste. Jorge Zahar Filho foi obrigado a apresentar, em nome da administração da feira, as desculpas ao grupo de poetas. Afinal, o que ali se passara estava em franca discordância com o estande do próprio Sindicato de Editores, em que os livros do doutor Jay Pop, Adelaide Carraro e Cassandra Rios mostravam que o sexo na nova república não é considerado pecado. Nudez, então, nem se fala”.
BIANCA TINOCO: Foi em decorrência dessa performance que a Márcia mudou de nome?
ALEX HAMBURGER: Foi. Porque uma estilista homônima escreveu uma nota dizendo que não se despia – pelo contrário, ela vestia as pessoas. Saiu de forma muito desagradável. Misto de blasé com uma falsa indignação. Essa Márcia Pinheiro aproveitou para aparecer. Foi fácil: quando viu a matéria, imediatamente escreveu para o Zózimo, a coluna onde apareceu a nota. Márcia, a partir daí, falou: “puxa vida, agora tudo o que eu fizer essa Márcia Pinheiro vai atrapalhar. Vou ter que mudar meu nome”. Ela comentou com as pessoas próximas e todo mundo concordou. É muito comum artistas usarem pseudônimos, e ela sabia disso – sabia de tudo aquela mulher. Três dias depois, ela veio com esse “Márcia X Pinheiro”. Depois de um ano, tirou o Pinheiro e não teve mais problemas com a homônima.
Depois do Cellofane Motel Suíte teve o Navio-Museu Bauru, depois Tricyc(l)age – Música para Dois Velocípedes e Pianos, depois Salão Carioca de Estética e Mass-age, e J. C. Contabilidade, Análises & Sistemas. Esta última performance ocorreu numa boate chamada Barão com Joana, onde era permitido fazer performance. Fizemos um trabalho sensacional. Ficamos em uma cabine reservada aos locutores, colocamos um chapéu de festa e falamos algumas coisas. A J. C. Contabilidade era uma empresa que fazia contabilidade, mas J. C. também são as iniciais de Jesus Cristo. Trabalhamos muito com essa coisa antípoda da arte, por exemplo, contabilidade com arte. Começamos a pegar coisas do cotidiano, a fazer transposições, pegar textos de contabilidade, textos kitsch, e utilizamos nas performances. É até difícil descrever, porque a performance não é muito descritiva, ela acontece para provocar a estranheza do olhar. Havia dois malucos em uma cabine, falando um texto de contabilidade. Depois, no Parque Lage, fizemos outras performances falando textos provocativos. Uma vez, xingamos o público.
BIANCA TINOCO: Como foi a performance dos triciclos?
ALEX HAMBURGER: Foi homérica. John Cage havia sido convidado para participar da Bienal de São Paulo, em 1985. Ele era um experimentalista dos mais apreciados por todos os artistas. Talvez tenha sido o primeiro artista multimídia da história, que estava se utilizando inclusive de tecnologia. Havia outros multimídias, intermídias, [Dick] Higgins, o Fluxus, [Nam June] Paik, mas o Cage era um gênio e era acessível. Por sorte nossa, o Cage resolveu vir ao Rio a convite da Jocy de Oliveira, musicista de vanguarda que foi aluna dele. Ela e Maria Teresa Vieira, outra pianista, convidaram ele para vir conhecer o Rio e fazer uma apresentação, um concerto. Ele respondeu, “claro”, e imediatamente conseguiram uma data na Sala Cecília Meireles, o melhor lugar do Rio, para um concerto e uma palestra antes, à tarde, em que também fui. Falei com a Márcia e, modéstia à parte, eu dei um impulso maior, porque eu era super-hiper-fã do Cage. Falei “poxa, esse cara é um ícone. E se a gente fizesse uma intervenção no concerto?”. Ela imediatamente topou. Nem pestanejou, era muito positiva, corajosa, até mais do que eu. A gente teve uma semana para pensar e era preciso muita coragem para fazer isso, porque ele veio precedido de muita fama e fez sucesso na Bienal. Ficou tão conhecido que muita gente no concerto achava que ele era um músico pop. Só que Cage trabalhava com linguagens altamente avançadas, de Joyce, Satie, Pound, Russolo, enfim, era de uma sofisticação que não precisa nem dizer. Provavelmente sugeri alguma coisa de subir, intervir, mas foi difícil, ficamos noites sem dormir. Finalmente, conseguimos uma formatação do que fazer, que seria pegar dois velocípedes dos sobrinhos da Márcia, que tinham 2, 3 anos, subir no palco e pedalar. Criamos o nome, fizemos um trocadinho com Cage, tricy-cage, triciclagem, e fomos para a Sala Cecília Meireles. Naquela noite, compareceu um público enorme, a sala lotou, mas parecia a Europa da década de 1930, 40; todo mundo certinho, um guarda na porta etc. O guarda perguntou o que fazíamos com aqueles velocípedes para ver o espetáculo, e a gente respondeu que eram das crianças; então conseguimos entrar. Entramos eu, a Márcia e a Cláudia, que era uma amicíssima nossa, e que ficou encarregada de fotografar se nós conseguíssemos subir ao palco. Na primeira fila, estava a nata da intelectualidade carioca, brasileira: Cacá Diegues, Caetano Veloso, Waly Salomão, Chacal, todos estavam presentes. Imagina: quem é que ia perder o Cage recitando várias composições experimentais, com pianos preparados? Todo mundo estava louco, ávido para ver, Tim Rescala envolvido, Maria Teresa Vieira, Jocy etc. A gente conseguiu chegar pertinho do palco e ficou ali; as pessoas notaram e não notaram. Como Cage é muito experimental, e essas coisas de vanguarda não são divertidas, são de reflexão, a situação estava meio complicada, porque o público esperava uma coisa e estava assistindo a outra. Havia momentos muito monótonos, em que a coisa tornava-se vagarosa, como na peça em que ele distorcia a leitura de Finnegans Wake. As próprias composições com piano preparado eram algo que ninguém entendia, porque havia piano escondido na sala: um era tocado num lugar e outro em outro – música atonal. A plateia ficou um pouco entediada – isso é normal em experimentação, em vanguarda, é uma coisa que provoca a reflexão mais convencional das pessoas, que estão condicionadas àqueles prazeres imediatos dos sentidos. A gente estava esperando, e deixamos a moça com uma máquina ótima, uma Nikon ou Canon. Estávamos sem coragem, e as composições foram se sucedendo. Então chegou uma hora em que a gente se decidiu: “é agora ou nunca. Não temos nada a perder! O máximo que vão fazer é parar o concerto e nos tirar. Mas não é uma proposta inusitada que o Cage está sempre fazendo? Por que não tentar?”. Finalmente coloquei o velocípede naquele palco alto, pulei, peguei o da Márcia, dei a mão para ela, puxei-a, sentamos nos velocípedes e começamos a pedalar. Tinha um que fazia um barulhinho, um nhec nhec porque faltou óleo; até isso ia ao encontro de uma sonoridade atonal, de uma melodia estranha. Mas o barulho surgiu por acaso, a gente só percebeu na hora, não testamos antes. Começamos a andar debaixo daqueles pianos enormes, de cauda; as duas pianistas tocavam Winter Music. Era a última música, se a gente bobeasse… Uma coisa que lembro ter nos encorajado foi que, no intervalo, tomamos um café no foyer e ouvimos alguns artistas falando na possibilidade de fazer algo também. Outras pessoas pensaram, mas talvez não tivessem bolado e preparado algo com antecedência como nós. Já tínhamos um discurso, um título. Isso nos encorajou, vimos que não éramos loucos.

Alex Hamburger e Márcia X., Tricyc(l)age – Música para Dois Velocípedes e Pianos, 1985. Intervenção no concerto de John Cage na Sala Cecilia Meirelles, Rio de Janeiro, Brasil. Os artistas entraram no palco pedalando velocípedes. Márcia segurava um cartaz com a frase “Ser serrote não é defeito, defeito é viver serrando”
Fizemos a performance e as pianistas continuaram a composição, como se nada estivesse acontecendo; deixaram a gente circular. A danada da Cláudia só conseguiu bater uma foto, disse que ficou nervosa. [Alex mostra a foto.] Aqui a Jocy, um pianão de cauda, e a gente aqui. Estamos em primeiro plano, parece que ela [Márcia] está um pouco maior, mas a gente era pequenininho perto desses pianos. A Márcia ainda botou um cartaz na boca, escrito não sei o quê; acho que ele ainda existe nas coisas guardadas dela. E a Cláudia só bateu uma foto, disse que ficou nervosa. Houve um tumulto tão grande quando a gente fez aquilo, mas as pessoas começaram a curtir, aqueles entediados. E ficou aquela dúvida no ar, se nossa intervenção fazia parte ou não do espetáculo de Cage. Mas a gente nem conhecia o Cage, nem a Jocy, naquela época. Depois até conheci a Jocy, mas na época [Márcia e eu] éramos dois ilustres desconhecidos. Nesse ponto, foi bom e ruim: foi ruim porque tirou um pouco o ineditismo, a nossa aventura. Foi bom porque também tirou [a impressão de] “pô, esses caras são uns pentelhos, querem aparecer à custa do John Cage”. Foi uma homenagem: logo que a gente desceu, a imprensa veio, a Folha de S. Paulo, perguntar o que foi aquilo. O próprio Cage estava na plateia, e dizem que gostou da nossa intervenção. Não foi nada demais, foi uma coisa singela. Não foi violenta, agressiva.
A repercussão serviu para nos lançar nesse circuito, que era complicado de lidar. Era minúsculo, pessoas contadas nos dedos da mão, e ainda assim havia uma competição feroz, que ninguém admitiria se você falasse. Eu percebia porque, às vezes, havia festivais de performances ou eventos parecidos, e não nos chamavam, a mim e a Márcia. Já éramos marginalizados com relação à Geração 80 dos pintores; a gente não entrava nessa de jeito nenhum, jamais seríamos chamados para expor. Não importa, a gente conseguiu vencer todas as barreiras, continuamos realizando trabalhos depois de Tricyc(l)age. Todo esse material está no espólio da Márcia: milhares de fotos, porque ela pensava que um dia isso teria importância. Fui lá recentemente e ela guardou tudo: rascunhos meus, manuscritos da época, indicações de como realizar a performance. Ela guardou cada papelzinho, e não acreditei quando vi aquilo. Fotos, pequenos recortes, convites, algum material da performance, as não-roupas, está tudo lá. Parte do acervo foi exposta na retrospectiva da Márcia no Paço Imperial.
BIANCA TINOCO: Como era a conexão de vocês com os artistas do Parque Lage, e mais especificamente com o Grupo Seis Mãos e com o grupo A Moreninha?
ALEX HAMBURGER: Nesse evento do Bonito Oliva [palestra do crítico italiano Achille Bonito Oliva realizada em fevereiro de 1987 na Galeria Saramenha onde o grupo A Moreninha fez uma intervenção], não tivemos nenhum envolvimento direto. Ficamos meramente observando. Participei mais de espírito, mais um performático dando uma força psicológica. Eu não sabia o que ia acontecer, o que eles tinham planejado.
BIANCA TINOCO: Ricardo Basbaum me disse que a Márcia foi de Rambo e você foi com um chapéu de marinheiro e uma espada do He-Man.
ALEX HAMBURGER: Ah sim, é verdade! Ricardo não falou na concepção do trabalho em si, a gente não sabia o que ia acontecer, mas pediu aos artistas próximos, performáticos, que se caracterizassem para essa palestra do Bonito Oliva. No início estava tudo ok, estávamos na plateia, a Márcia de Rambo e eu de marinheiro. Não sei se eles estavam ou se saíram e se caracterizaram com uma roupa que eles usavam em intervenções, de garçom. Vieram com essa roupa, depois de uns quinze minutos de fala do Bonito Oliva, com bandeja. Parece que na bandeja havia um rádio gravador. Bonito Oliva pulou no rádio, jogou o rádio no chão, ficou uma fera. Começou com um artista [Enéas Valle] que estava com um espelho retrovisor. Achei muito engraçado. Eu não havia percebido o alcance da coisa, porque não participei da reunião em que eles combinaram o timing das ações. De repente estou lá sentado, esse cara tirou um espelho retrovisor e começou a se maquiar. O espelho era desses de carro, foi muito engraçado, interessante. A reação do Bonito Oliva contribuiu para que fosse uma ação que eu gostaria de ter feito. Sabe essas coisas que você assina embaixo, tamanha a identificação que você tem com certo tipo de trabalho? Foi tudo certo, provocaram o cara, ele ficou uma fera, no dia seguinte houve repercussão na mídia, saíram matérias.
O trabalho do Seis Mãos e da Dupla Especializada teve muito boa repercussão, de artistas que estavam tentando romper com certas estruturas linguísticas, estéticas, e contribuindo com novas formulações, novas ideias. Hoje acho que a performance é melhor compreendida, provoca reflexões mais amplas, reações em cadeia, instiga o pensamento sobre posturas existenciais, antropológicas, epistemológicas. Percebeu-se que tudo é importante, desde os teóricos até os artistas que trabalham com questões mais elementares, como o pessoal do grafite, artistas de rua, de circo. A performance, de certa forma, consegue dar conta desse painel imenso.
BIANCA TINOCO: Como terminou sua dupla com a Márcia?
ALEX HAMBURGER: Depois de termos feito uma série de apresentações juntos, talvez umas vinte, percebi que estávamos começando a esgotar as nossas propostas, que já não tinham mais aquele ineditismo do início. A dupla era bacana, mas sempre fui uma pessoa inquieta, nunca gostei de perpetuar nada. Comecei a sentir um desgaste, a Márcia não tanto. Houve um pequeno desgaste também por ordem da nossa relação pessoal; eu queria fazer algumas coisas solo, comecei a ter ideias para executar sozinho. Foi quando começamos a ter uma pequena dificuldade de convivência, e chegamos a um momento em que achamos melhor cada um seguir carreira solo. Oito anos foram suficientes para fazermos juntos o que queríamos, e também para deixar a dupla marcada. A coisa foi se encaminhando sem nenhum atrito, de uma forma fluida e tranquila. Fui morar em outra casa na Praia do Flamengo, ela continuou no Catete, e comecei a fazer performances solo. Realizei várias e comecei outras pesquisas no campo da poesia sonora, poemas-objeto, letrismo, coisas que só dava para eu mesmo elaborar. Na parceria, havia essa coisa de interagir com a outra pessoa em cena, precisava haver uma ação dupla ali. Mais ou menos igual à Dupla Especializada, composta pelo Ricardo [Basbaum] e pelo Alexandre [Dacosta], depois de um certo momento cada um teve sua carreira. Lancei um CD de poemas sonoros [12 sonemas], que teve uma boa repercussão no meio, com poemas que utilizam o aparelho fonador humano, ruídos. Depois passei a fazer exposições individuais em galerias de arte, centros culturais, muitas coletivas, entrava com trabalhos geralmente no campo de livro de artista, livros-objeto. De vez em quando fazia ainda uma performance, uma ação corporal, a maior parte delas utilizando a voz. Desenvolvi também trabalhos com letras, poemas visuais. Colaborei em revistas, jornais, participei de eventos loucos em Magé, na periferia do Rio. Participei da Bienal de Veneza em 1993, já solo, mas em uma galeria à parte, um centro cultural naquele ambiente da Bienal. Marcio Doctors me convidou, não tive como recusar.
Nunca fui carreirista, daqueles que cada vez querem ficar em uma galeria mais importante, com objetivo financeiro. Em certo momento da minha trajetória, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muda, ou seja, sem repercussão. Cada vez mais, eu queria fazer projetos que não tivessem cobertura na mídia, nem fossem exibidos em uma galeria de renome, porque os trabalhos que eu sempre gostei eram os mais irreverentes, irônicos, que permitem o questionamento da arte. Parece um paradoxo dizer isso depois que fiz escândalos e apareci, mas eu topo esses paradoxos, adoro. No início, eu realmente quis muito que meu nome tivesse repercussão, mesmo que fosse em um meio mais alternativo e exigente; não queria ser um joão-ninguém. Mas assim que obtive essa repercussão, deixei de dar valor a ela. Toda vez que realizo alguma coisa, hoje em dia, penso em como posso provocar a reflexão sobre os caminhos normalmente utilizados pelos artistas, pelos pensadores.

Alex Hamburger, Nouvelle Vague?. Festival Performance Arte Brasil, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil, 2011. Fotografias de Julio Callado
Muitas vezes faço coisas pontuais, preparo uma apresentação de poesia sonora, faço palestra com slides, não é uma provocação gratuita. Penso que há outros caminhos, como esse da poesia sonora, do uso da voz, da letra como potencial para o poema, ou mesmo da intervenção corporal de uma forma que quase provoca situações paradoxais. As pessoas não estão muito dispostas a ter diálogo comigo hoje em dia, porque sabem que não estou disposto a fazer exposiçõezinhas, mostras, isso já não me diz nada, embora eu aceite e respeite quem faça. Tento ir cada vez mais em uma linha proposta pelos movimentos experimentais, de ruptura. Tenho uma empatia com esse tipo de antilinguagem, e às vezes até me perco um pouco, não sei para onde ir. Acho legal me perder às vezes e me encontrar em um determinado ponto nessa minha pesquisa. Mas sinto que minha contribuição teve o ápice e agora estou meio que à deriva, estudando. Percebo que não dá para ir muito além. A área em que estou querendo enveredar já extrapola. Acho mais interessante falar com pessoas, como estou falando com você. Eu considero isso trabalho, estou fazendo arte.
Meu último grande trabalho mais palpável foi no programa Conexões Artes Visuais MinC/Funarte/Petrobras, com uma proposta no campo da radioarte. São linguagens que estou tentando trazer à tona, assim como, em um certo momento, contribuí para trazer à tona a performance. O evento teve uma repercussão bem legal, fomos a Curitiba, chamei várias pessoas que estavam fazendo essas coisas, mas que não tinham chance de mostrar seu trabalho, suas ideias. E são trabalhos nuançados, efêmeros. São pós-performáticos, se utilizam de elementos como gravador, câmera, microfone, para transmitir coisas. Descobri pessoas que ficariam à sombra se não houvesse um trabalho pioneiro como o que fizemos. Depois levamos o projeto para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói [MAC-Niterói], fiz questão de ir para um lugar que tivesse relevância e visibilidade como o MAC, porque ele é um lugar aberto para esse tipo de experimentação que não é necessariamente mais arte, indo um pouco além no campo das vivências. Nunca vou ser reconhecido como o cara que faz vivências, intervenções urbanas e derivas situacionistas. Mas esse trabalho pode ser importante de outra maneira, não só na realização de obras.
BIANCA TINOCO: Por que os artistas de performance são apagados de um registro da Geração 80, a ponto de não figurarem em exposições como a do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro?
ALEX HAMBURGER: Há muitos pontos envolvidos. O primeiro é que a performance não era conhecida, não era respeitada como linguagem como é hoje. Os artistas nos viam atuar, mas, para ser reconhecido na Geração 80, era necessário produzir uma obra pictórica ou escultórica, porque era isso que legitimava a atuação de um artista. Ninguém sabia ainda sobre a linguagem da performance, porque as pessoas eram mal informadas. Pessoas como o Ricardo Basbaum, Márcia X., Barrão, Alexandre Dacosta e algumas outras eram extremamente bem informadas. Eles sempre leram, conheciam o Grupo Rex e, em sua forma de escolher e se expressar, escolheram essa expressão. Pelas conversas que dividíamos, tínhamos essa verve de radicalizar, tínhamos sangue de dadaísta e sangue de neoconcretista helioiticicano. Hélio Oiticica foi um cara revoltado, rebelde com relação às linguagens convencionais. Lygia Clark também. Eles jogaram tudo fora para produzir seus trabalhos.
Há um aspecto mais simplório, que seria a ênfase na pintura. É claro, a pintura é um suporte extremamente válido para uma expressão interna, e temos que aplaudir o bom trabalho desenvolvido na Geração 80. Eu aplaudi na época, adorei a exposição, estava lá – eu, a Márcia, o Aimberê César, projetamos umas performances que tinham sido filmadas em Super 8, trabalhos da Márcia, não sei se o Chuva de Dinheiro. Mas, nessa época, 1984, não havia ainda uma repercussão. Eu não vou dizer nem que foi preconceito, não tenho uma postura crítica, cáustica, em relação às pessoas que não nos consideraram da Geração 80. O mercado estava tão em baixa que a Geração 80 deu uma grande contribuição para que a arte viesse à tona, adquirisse uma certa importância no contexto social.
Mas a gente estava fazendo história lá – os pintores não, eles já tinham uma linguagem reconhecida pela mídia, pela crítica e pelo público. Foi lindo o que eles fizeram no Parque Lage, foi lindo e muito bem-feito. Além das obras, fizeram um environment, um ambiente. Teve aspectos de happening, de arte acionista também nessa exposição Como vai você, Geração 80?. Mas a performance em si ainda não tinha o aval que passou a ter mais à frente, na década de 1990, quando Marcio Doctors, críticos e pessoas respeitadas no meio, começaram a escrever dizendo que era uma linguagem válida, que tinha sua importância no contexto artístico. Penso que as pessoas simplesmente não sabiam bem do que se tratava. Não havia, em 1984, muitas realizações de vulto no campo performático. Foi logo depois da exposição que o Seis Mãos começou a fazer coisas mais incisivas, mais marcantes. Márcia e eu fizemos mais performances em 1985. Em 1984, eu ainda estava lançando o livro de poemas, não posso reivindicar alguma coisa nesse sentido. É claro que, historicamente, as pessoas poderiam considerar que, na Geração 80, além dos pintores, também houve artistas performáticos. Conta o fato de a gente nunca ter se importado, porque performance tem essa proposta mesmo de ser efêmera, de não buscar muito a venda – porque eles queriam vender, os pintores. Não há mercado para a performance até hoje, então a gente nunca fez questão. Mas, mesmo sem alarde, mesmo sem ter se importado, alguém acabou percebendo a importância e está levantando uma série de situações, de trabalhos que aconteceram e que foram bastante volumosos.
Sempre digo que surgi no bojo da Geração 80, pois antes ninguém sabia quem era Alex Hamburger. Meu nome é Alexander, e resolvi me lançar com esse pseudônimo. Meus livros, performances, tudo que fiz nessas áreas traz esse nome, porque eu estava disposto a tornar-me conhecido, a dizer ao que vim. A gente queria ser conhecido para depois ser convidado para ir a Brasília, a São Paulo, curtir o momento. Tínhamos o que oferecer – eu, a Márcia, o Ricardo, o Dacosta, o Jorge Salomão, o Waly, o grupo Rádio-Novela. Em São Paulo, havia um pouquinho também, no sul o 3Nós3. Hoje, um artista que se utiliza de performance é observado por um Paulo Sérgio Duarte, por um Patinho [Paulo Venancio Filho], por um [Paulo] Herkenhoff. Na época, eles não existiam: deviam estar por aí, mas escrevendo sobre pintura. Porque era a única coisa séria – o que nós fazíamos não tinha o aval do crítico, do público e muito menos da imprensa. A imprensa fazia inúmeras matérias, mas sem compreender absolutamente nada do que estava se passando. O Parque Lage era aberto, mas deviam achar que era uma atividade menor.
A partir dos anos 2000, a questão da performance adquiriu outra importância, e muitos artistas que hoje são bastante conhecidos, se não são totalmente performáticos estão na circunvizinhança da performance, como a Laura Lima, a Renata Lucas, muita gente em Brasília, em São Paulo. É uma linguagem que já tem sua importância e que, por sua vez, gera associações internas. Não é mais só a performance, é a videoperformance, a performance poética, a do poeta sonoro que usa o corpo, a presença, objetos de cena, estranheza, situações inusitadas do dia a dia, descontextualização, desconstrução. Isso tudo faz com que ela tenha uma importância muito grande nesse campo ampliado da arte atual. Não havia como perceber isso na década de 1980, quando já era o máximo o artista fazer determinado tipo de tela, lona. O artista da Geração 80 era reconhecido por isso, era considerado avançado por não fazer simplesmente um quadro, por usar outros materiais, mas sempre com imagens, utilizando os princípios básicos do apelo retiniano. Outro tipo de apelo, o corporal, não era considerado como material válido de transmissão de sensações na época. Não era possível naquela época a performance vingar, ou qualquer tipo de trabalho desse tipo, porque nós ainda não havíamos exorcizado uma série de questões da pintura, da escultura, até do objeto. Isso precisava ser feito e foi muito bem-feito.
Naquele momento, até a palavra performance, a imprensa achava que era um modismo, uma coisa típica carioca daquele verão. A palavra performance, assim como a atividade, levou alguns anos para ser levada a sério. Houve uma época em que todo mundo começou a usá-la, houve uma diluição total. Como era algo muito delicado, ninguém tinha ainda um cabedal crítico para avaliar. Não havia estofo cultural para compreender e nem condições devido a tudo que te falei.
A Márcia, por exemplo, tinha muito talento, poderia ter feito parte da Geração 80, ela pintava. Mas a danada botava pé firme e ficou no campo da performance. Ela não quis, e olha que ela pintava para burro! Eu, por meu turno, poderia continuar com meus livros meio neo-joycianos, uma linguagem bastante contemporânea dos poemas, porque eu tive uma boa repercussão. Poderia insistir nisso, provavelmente poderia me tornar um walyzinho da vida, eu tinha potencial. Eu também não quis, escrevi dois, três livros e optei por essa linguagem. Então me sinto gratificado de ter um Ricardo Basbaum, um cara de muita visão, uma Cecília [Cotrim], reconhecendo meu trabalho. Quando expus na galeria A Gentil Carioca, mostrei objetos readymades, mas na abertura fiz questão de fazer uma performance que foi A Alma Encantadora das Ruas. Peguei gente da rua e trouxe para a galeria. É uma coisa consequente, não é gratuita, algo que fiz para ser diferente na marra. Realmente eu achava que ela tinha condições de traduzir uma série de inquietações internas, quase uma catarse. Em vez de fazer análise, vou fazer performance. Acho que foi assim que aconteceu comigo.
O que deixa uma interrogação é porque hoje, já sob o filtro da história, quando há referência à Geração 80, não existe a lembrança de que houve outros tipos de manifestações, que estavam até um pouco mais adiante do que as questões pictóricas. Tenho certeza de que, a qualquer momento, um historiador sensível, culto, vai perceber e começar também a considerar essa possibilidade.
PARA CITAR ESTA ENTREVISTA
TINOCO, Bianca. “Entrevista com Alex Hamburger”. eRevista Performatus, Inhumas, ano 4, n. 16, jul. 2016. ISSN: 2316-8102.
Revisão ortográfica de Marcio Honorio de Godoy
© 2016 eRevista Performatus e a autora
Texto completo: PDF